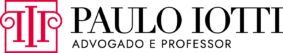Em razão da repercussão existente sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que a união homoafetiva é merecedora do regime jurídico da união estável constitucionalmente consagrada, achei por bem elaborar um parecer sobre a possibilidade da conversão da união estável homoafetiva em casamento civil, o que é uma decorrência puramente lógica da decisão do STF e uma decorrência da própria legislação, que determina a possibilidade da conversão da união estável em casamento civil. É algo que julgo mais do que evidente (que, reconhecida a união homoafetiva como união estável, ela pode ser convertida em casamento civil se o casal assim o desejar, da mesma forma que o pode a união estável heteroafetiva se o casal isto quiser), mas como o preconceito muitas vezes se faz presente na análise do tema, achei salutar divulgar os argumentos jurídicos em prol da possibilidade jurídica da conversão da união estável homoafetiva em casamento civil.
PARECER
Possibilidade de Conversão da União Estável Homoafetiva em Casamento Civil.
Por Paulo Roberto Iotti Vecchiatti[1]
A recente decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o status jurídico-familiar da união homoafetiva enquanto merecedora da proteção da união estável constitucionalmente consagrada com absoluta igualdade de direitos relativamente à união estável heteroafetiva (STF, ADPF n.º 132 e ADIn n.º 4277) fez surgir a “polêmica” sobre a possibilidade de conversão da união estável homoafetiva em casamento civil homoafetivo, por força da parte final do art. 226, §3º, da CF/88, que aduz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento civil. Contudo, trata-se de uma falsa polêmica, na medida em que somente o preconceito (juízo de valor arbitrário) poderia impedir a conversão da união estável em casamento civil pelo simples fato de termos um casal homoafetivo solicitando tal conversão, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista meramente formal, pois temos uma união estável em ambos os casos, donde a união estável deve ser passível de conversão em casamento civil em ambos os casos, seja quando formada por um casal heteroafetivo quanto quando formada por um casal homoafetivo.
Com efeito, do ponto de vista material, não faz sentido jurídico nenhum reconhecer a união estável homoafetiva, mas não reconhecer o casamento civil homoafetivo, pois tanto casamento civil quanto união estável são regimes jurídicos que visam regulamentar a família conjugal, donde reconhecida a união homoafetiva como família conjugal[2], é obrigatório o reconhecimento do direito de casais homoafetivos terem acesso ao casamento civil – ora, sendo a família conjugal o objeto de proteção valorativamente protegido pelos regimes jurídicos do casamento civil e da união estável, então afigura-se ilógico e irracional a não-conversão da união estável homoafetiva em casamento civil, visto ter o STF reconhecido a união homoafetiva como família conjugal quando preenchidos os requisitos da união estável (publicidade, durabilidade, estabilidade e intuito de constituir família – mediante comunhão plena de vida e interesses, pautada na lealdade, fidelidade e mútua assistência, que é exatamente o que se exige para a união heteroafetiva ser reconhecida como família conjugal), donde arbitrária esta pretensa não-conversibilidade, pois ela implicaria em afirmar que o casamento civil teria um status social superior à união estável para não se permiti-lo às uniões homoafetivas, o que seria uma forma de se menospreza-las, de afirmar que elas seriam menos dignas que as uniões heteroafetivas, em clara classificação da união estável homoafetiva como uma união estável de segunda classe (verdadeira cidadania de segunda classe em termos de Direito das Famílias[3]), o que é claramente discriminatório e afrontoso à isonomia. Assim, afronta a dignidade humana de homossexuais dita afirmação, pois as pessoas merecem a mesma dignidade pelo simples fato de serem pessoas humanas, só se admitindo a relativização da dignidade de uns em relação à de outros ante a existência de motivação lógico-racional que isto justifique (aspecto material da isonomia)[4], o que inexiste no presente caso (o relator não o apresentou), donde não se pode aceitar dito argumento como válido.
Ademais, do ponto de vista puramente formal, o art. 226, §3º, da CF/88 e o art. 1.726 do CC/02 determinam obrigatoriamente ao Estado Brasileiro que possibilite possibilidade da conversão da união estável em casamento civil, donde reconhecida a união homoafetiva como união estável, tem-se ordem constitucional obrigando a possibilidade de sua conversão em casamento civil. Logo, devido ao reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da união homoafetiva como união estável constitucionalmente protegida e merecedora de “absoluta igualdade” relativamente à união estável heteroafetiva (consoante voto do Min. Ayres Britto), os cartórios de registro civil são obrigados a permitir a conversão da união estável homoafetiva em casamento civil a todos os casais homoafetivos que o desejarem.
Lembre-se que a única hipótese de união estável não-passível de conversão em casamento civil é aquela formada por pessoas que, apesar de casadas, se encontram separadas judicialmente ou separadas de fato de seus cônjuges (art. 1.723, §1º, do CC/02[5]) – mas neste caso havia uma fundamentação válida ante a isonomia e a razoabilidade para não se permitir a conversão da união estável em casamento: um dos companheiros (ou ambos) era(m) casado(s), donde a conversão desta união estável em casamento implicaria em bigamia, que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por outro lado, não há fundamento válido ante a isonomia para justificar o tratamento desigual da união estável homoafetiva relativamente à união estável heteroafetiva, ante a ausência de fundamentação lógico-racional que justifique a discriminação pretendida (negativa de conversão em casamento civil) com base no critério diferenciador erigido (homogeneidade/diversidade de sexos do casal)[6], discriminação configurada pelos direitos negados ao casal quando não se permite seu acesso ao regime jurídico do casamento civil[7]. Com efeito, no mundo inteiro, são apresentadas sempre as mesmas “razões” para se negar o direito de casais homoafetivos de acesso ao casamento civil: capacidade procriativa, vontade da maioria e religião. Contudo:
(i) a capacidade procriativa não é critério diferenciador, na medida em que casais heteroafetivos estéreis, que não a possuem, não são impedidos de se casar e não deixam de ser reconhecidos enquanto família conjugal por sua mera esterilidade, razão pela qual a invocação da capacidade procriativa para impedir o acesso de casais homoafetivos ao casamento civil implica na adoção de dois pesos e duas medidas para a mesma situação (casais estéreis nos dois casos, sendo irrelevante a esterilidade ser decorrente da homogeneidade de sexos ou de problemas genético-biológicos de um ou ambos os integrantes do casal heteroafetivo, pois se o critério for a “capacidade procriativa”, então não é relevante a origem da incapacidade procriativa, sendo relevante apenas a sua existência no caso concreto). Logo, ante a não-proibição do casamento civil entre casais heteroafetivos estéreis, tem-se que a capacidade procriativa não é critério diferenciador (mesmo porque tal “critério” seria inconstitucional por afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, visto que estaria negando igual dignidade, respeito e consideração jurídica a famílias conjugais por sua mera esterilidade, que é irrelevante por ser a família conjugal formada pelo amor romântico que vise a uma comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura/amor familiar, não pela capacidade procriativa do casal);
(ii) voluntarismo majoritário não é critério válido de discriminação, ante ser basilar na teoria constitucional que mesmo a maioria deve se submeter às normas constitucionais enquanto não alterá-las ou convocar nova constituinte para suprimi-las caso se tratem de cláusulas pétreas, donde, considerando que a união homoafetiva constitui uma família conjugal e considerando que a família conjugal constitui o objeto de proteção valorativamente protegido pelo regime jurídico do casamento civil, tem-se que a vontade homofóbica de uma eventual maioria que venha a se opor ao casamento civil homoafetivo não configura critério válido de discriminação, donde o argumento é inaceitável para tal fim. A opinião da maioria da população torna-se irrelevante a partir do momento em que se conclui que a interpretação do ordenamento jurídico-constitucional demanda pela aplicação da interpretação extensiva ou da analogia para estender os regimes jurídicos do casamento civil e da união estável aos casais homoafetivos, pois, como se sabe, o princípio do Estado de Direito significa que vivemos em um governo de leis e não de Homens – para usar a expressão consagrada (ainda que sejam leis interpretadas por Homens) –, o que significa que o ordenamento jurídico se aplica a todos indistintamente, mesmo às maiorias, que a ele tem que se submeter. Isso não afronta a democracia porque esta é atualmente entendida como o regime jurídico de defesa dos direitos fundamentais, não como despotismo das maiorias. Se estas não mais concordam com o ordenamento jurídico, que o alterem ou convoquem uma nova Constituinte se a questão versar sobre cláusulas pétreas – assumindo os riscos e consequências dessa atitude. Mas o governo de leis significa que não é a conveniência e/ou a arbitrariedade da maioria que vai determinar as regras de convivência social: isso é determinado pelas normas jurídicas, donde estas se aplicam mesmo contra a vontade majoritária[8]. Logo, a partir do momento em que a família conjugal contemporânea forma-se pelo amor familiar (amor romântico que vise a uma comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura[9]), que é o elemento valorativamente protegido pelas leis do casamento civil e da união estável, assim como considerando que as uniões homoafetivas são pautadas por este amor familiar que justifica a proteção do Direito das Famílias às uniões heteroafetivas, então a isonomia impõe a aplicação da interpretação extensiva ou analogia[10] para possibilitar o casamento civil e a união estável a casais homoafetivos, ante a ausência de motivação lógico-racional que justifique entendimento contrário. Goste ou não a maioria, isto é o que o Direito pátrio impõe[11] através dos direitos fundamentais à igualdade e ao respeito de sua dignidade conferidos a todos os cidadãos brasileiros, inclusive aos cidadãos homossexuais. Trata-se de uma questão de direitos fundamentais que, enquanto vigentes em nosso ordenamento jurídico-constitucional, encontra-se fora do alcance de deliberações majoritárias[12];
(iii) motivos religiosos igualmente não são argumentos juridicamente aceitáveis por força do princípio da laicidade estatal, que veda a utilização de argumentos religiosos para fundamentar decisões jurídicas, pois tal utilização caracterizaria “aliança” com a religião em questão, algo vedado expressamente pelo art. 19, inc. I, da CF/88 – cumprindo lembrar que nenhuma instituição religiosa será obrigada a celebrar casamentos homoafetivos por estarmos tratando aqui de casamento civil, não de casamento religioso. Anote-se, ainda, que teorias de Direito Natural, teológicas ou racionalistas, não têm substrato jurídico-constitucional em um sistema de Constituição Rígida que não o reconheça, consoante reconhecido pelo STF no julgamento da ADIn n.º 815, que disse que teorias de supremacia de normas supra-positivas são incompatíveis com o ordenamento jurídico de uma Constituição Rígida – mesmo porque o subjetivismo inerente a teorias de Direito Natural afronta o princípio da segurança jurídica, ante a ausência de um critério seguro de definição sobre o que configuraria o Direito Natural Supra-Positivo, donde considerações a esse respeito não devem ser levadas em consideração, devendo-se discutir apenas aquilo que reste reconhecido expressa ou implicitamente pela Constituição Federal.
Nesse sentido, tendo em vista que a repersonalização do Direito das Famílias mudou o paradigma familiarista para prestigiar a família eudemonista, que é família que se forma e se mantém unicamente se isto trouxer felicidade à mesma[13] (ao casal, no caso da família conjugal), não faz sentido não se reconhecer a família conjugal homoafetiva e não se estender a ela o direito de acesso ao casamento civil[14].
Percebe-se, assim, que a “exigência” da diversidade de sexos como “essencial” ao casamento civil decorre de uma visão de mundo arbitrária, que ignora o elemento formador da família conjugal contemporânea, que é o citado amor familiar (amor romântico que vise a uma comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura). Nulo o casamento civil homoafetivo não é, porque não há nulidade sem texto, como notoriamente se sabe (sendo que a regra de que não há nulidade sem texto tem seu fundamento teleológico no art. 5o, inc. II, da CF/88, segundo o qual ninguém será proibido de fazer algo senão em virtude de lei – e expurgar do mundo jurídico um ato com eficácia ex tunc equivale a dizer que dito ato é proibido pelo Direito). Sobre a teoria da inexistência de atos que existiram no mundo fático, ela se trata de uma inacreditável invenção doutrinária que visa burlar a regra segundo a qual não há nulidade sem texto decorrente do art. 5º, inc. II, da CF/88, pois visa atribuir ao ato taxado de inexistente a mesma conseqüência ao ato nulo (destruição dos efeitos produzidos com eficácia ex tunc), com a enorme diferença segundo a qual as condições de validade (cuja afronta gera nulidade) estão expressamente previstas pela lei, ao passo que as supostas “condições de existência” (cuja afronta ensejaria a inexistência jurídica de atos que existiram faticamente) não o são, ficando a cargo do subjetivismo do intérprete. A própria doutrina não tem o menor pudor de reconhecer que dita teoria da inexistência surgiu na época do Código Napoleônico como forma de se proibir o casamento civil homoafetivo em um sistema legal que não o vedava e segundo o qual tudo que não estava proibido tinha-se como permitido[15]. Logo, trata-se de teoria inaceitável[16], sendo inacreditável que tenha sido aceita sem reservas pela doutrina em geral, mesmo a teor daquele caráter fraudulento de sua formulação, visto que foi criada para se burlar a regra segundo a qual não há nulidade sem texto com o único intuito de se proibir o casamento civil homoafetivo. Mas, mesmo abstraindo desta discussão e aceitando-se a validade da esdrúxula teoria da inexistência de atos que existiram no mundo fático, o entendimento do amor familiar como o elemento formador da família conjugal contemporânea afasta a colocação da diversidade de sexos como “essencial” ao casamento civil, pois a partir do momento em que se percebe que as uniões homoafetivas são por ele pautadas e que o casamento civil é um regime jurídico que visa proteger casais pautados pelo amor familiar, então se percebe que ele (amor familiar) é a condição essencial para o casamento civil e não a diversidade de sexos[17].
Portanto, tem-se que o direito ao casamento civil homoafetivo é uma decorrência direta da aplicação dos princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da liberdade real[18]. Afinal, considerando que os princípios constitucionais condicionam a interpretação jurídica das regras constitucionais[19] e da legislação em geral; considerando que o princípio da isonomia veda discriminações arbitrárias, considerando que é arbitrária a discriminação das uniões homoafetivas relativamente às uniões heteroafetivas[20] pela ausência de motivação lógico-racional que a sustente, especialmente no que tange à negativa do acesso ao casamento civil àquelas pela mera homogeneidade de sexos do casal; considerando que o princípio da dignidade da pessoa humana veda que o ser humano seja instrumentalizado para a promoção de uma conduta idealizada pelo Estado quando não haja motivação lógico-racional que isto justifique, em menosprezo aos projetos de vida não-coerentes com tal idealização; considerando que a negativa do casamento civil homoafetivo implica em menosprezo aos projetos de vida daqueles que vivem em uniões homoafetivas por isto passar a sinistra mensagem segundo a qual elas não seriam merecedoras do regime jurídico do casamento civil; considerando que o princípio da liberdade real exige que as pessoas não sejam discriminadas por suas escolhas de vida, como aquela decorrente do assumir-se enquanto cidadão homossexual em um relacionamento homoafetivo; considerando que a negativa do casamento civil homoafetivo enseja discriminação atentatória ao princípio da liberdade real; considerando essas questões, tem-se que o casamento civil homoafetivo é uma decorrência direta da interpretação dos princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da liberdade real, que impõem o reconhecimento de uma interpretação evolutiva do Direito que reconheça as uniões homoafetivas como famílias conjugais e lhes reconheça, portanto, os direitos ao casamento civil e à união estável, tendo em vista que elas são pautadas pelo mesmo amor familiar que justifica a proteção destes regimes jurídicos às uniões amorosas, donde tem-se que o acesso de casais homoafetivos ao casamento civil decorre da aplicação direta das normas constitucionais na interpretação da lei do casamento civil[21].
Assim, é inegável o cabimento de interpretação extensiva ou analogia para se reconhecer a juridicidade do casamento civil homoafetivo, não havendo óbice a tanto na redação do art. 1.514 do CC/02, na medida em que a expressão “o homem e a mulher” não significa proibição implícita ao casamento civil homoafetivo[22], mas apenas regulamentação do casamento civil heteroafetivo, donde cabível a colmatação de tal lacuna por força da interpretação dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da liberdade real[23] em razão de a união homoafetiva formar uma família conjugal, que é o objeto de proteção valorativamente protegido pelo regime jurídico do casamento civil[24]. Veja-se, não se diz que a expressão “o homem e a mulher” abarca a união homoafetiva, o que se diz é que ela não exclui a possibilidade do casamento civil homoafetivo por meramente regulamentar o fato heteroafetivo (casamento civil heteroafetivo) sem, todavia, proibir o fato homoafetivo (casamento civil homoafetivo). O mesmo pode-se dizer, portanto, do disposto no art. 1.535 do CC/02: o fato dele citar a expressão “marido e mulher” significa tão-somente a regulamentação do casamento civil heteroafetivo sem, todavia, proibir o casamento civil homoafetivo, caracterizando-se em ambos os casos uma lacuna passível de colmatação por interpretação extensiva ou analogia, por força da isonomia.
Sobre o tema, anote-se que o apego ao dogma da legalidade estrita em detrimento do reconhecimento da juridicidade do casamento civil homoafetivo por força da principiologia constitucional implica em postura superada, por incompatível com o neoconstitucionalismo contemporâneo[25], que prega a irradiação das normas constitucionais na interpretação das normas jurídicas em geral – tanto que mesmo no Direito Administrativo, criado originalmente sob o dogma da legalidade estrita, tem reconhecido a superação do princípio da legalidade estrita pelo princípio da juridicidade, em construção doutrinária que visa reconhecer justamente que não é necessária uma lei expressa para se reconhecer a juridicidade de algo quando este algo seja decorrente da interpretação dos dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso. Assim, a legalidade exigida para a atuação da Administração Pública deve ser entendida como em sentido amplo, no sentido de poder a Administração agir quando autorizada pela lei ou pelas normas constitucionais (legalidade constitucional), consoante já reconhecido pela doutrina administrativista contemporânea[26]. Nada mais natural que tal evolução da exigência de legalidade estrita para juridicidade para legitimar a ação estatal, visto que a exigência de lei formal para a atuação estatal surgiu em uma época em que não se falava em aplicabilidade imediata das normas constitucionais (verdadeira pré-história do Estado Constitucional), donde o neoconstitucionalismo/pós-positivismo da contemporaneidade exige que se permita a atuação estatal pela concretização de normas constitucionais e não apenas mediante autorização legal expressa. Assim, havendo permissivo constitucional para o casamento civil homoafetivo, não há que se negar o direito de casais homoafetivos ao acesso ao casamento civil – especialmente porque, considerando que a exigência de permissão normativa para a atuação estatal surgiu como forma de se garantir que o Estado não violasse arbitrariamente os direitos individuais dos cidadãos[27] e considerando que o ato estatal de permitir o acesso de casais homoafetivos ao casamento civil não viola direito de ninguém (ao contrário, reconhece um direito já decorrente da concretização das normas constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da liberdade real), não se constata óbice algum ao reconhecimento do direito de casais homoafetivo terem acesso ao casamento civil. Ao contrário, o dever de agir[28] da Administração Pública impõe o reconhecimento do direito de casais homoafetivos de terem acesso ao casamento civil como forma de respeito aos citados princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana e liberdade real.
Por outro lado, lembre-se que a Lei Maria da Penha reconheceu o status jurídico-familiar das uniões homoafetivas em seu arts. 2o e 5o, parágrafo único. Com efeito, a partir do momento em que se concebe a formação de uma família como direito fundamental inerente à pessoa humana, tem-se que o art. 2o da Lei Maria da Penha reconheceu expressamente que as pessoas homossexuais têm o direito de formarem famílias homoafetivas e, conseqüentemente, terem suas famílias homoafetivas reconhecidas e protegidas pelo Direito das Famílias. Com efeito, ao apontar que a família é compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados por vontade expressa (art. 5o. inc. II) e que as relações pessoais dispostas em todo este artigo independem de orientação sexual (art. 5o, parágrafo único), a Lei Maria da Penha afirmou que entende por família também a união conjugal homoafetiva pautada pela comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura – pois, do contrário, as relações pessoais dispostas no inciso II dependeriam de orientação sexual ou do sexo de um dos companheiros, o que contraria frontalmente o parágrafo único deste dispositivo legal.
Dessa forma, caracterizando-se as uniões homoafetivas como entidades familiares, então é inafastável o cabimento da interpretação extensiva ou da analogia como forma de se possibilitar o casamento civil homoafetivo, tendo em vista que este visa proteger/abarcar justamente as famílias/entidades familiares. Com efeito, nas precisas palavras do juiz Roberto Lorea Arriada, “Essa discussão adquire novos contornos quando a Lei no 11.340, de 2006 [Lei Maria da Penha], traz uma nova definição do que seja a família, que passa a ser juridicamente compreendida como a ‘comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; independentemente de orientação sexual’ (art. 5o, inciso II, e parágrafo único)”, donde afirma com precisão que “A nova definição legal da família brasileira se harmoniza com o conceito de casamento ‘entre cônjuges’ do art. 1.511 do Código Civil, não apenas deixando de fazer qualquer alusão à oposição de sexos, mas explicitando que a heterossexualidade não é condição para o casamento”, razão pela qual “Derruba-se, enfim, a última barreira – meramente formal – para a democratização do acesso ao casamento no Brasil”[29]. Afinal, nas palavras do mesmo magistrado, “O casamento civil é um direito humano – não um privilégio heterossexual”[30], donde “…à luz do artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal, conforme fundamentação supra, tenho que (não apenas a união estável, mas também) o casamento, nos moldes como atualmente regulado pelo legislador, é um instituto passível de ser acessado por todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual…”[31]. Reitere-se: o casamento civil é um regime jurídico de Direito das Famílias, não um dogma religioso blindado contra a interpretação sistemático-teleológica dos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da liberdade real que demonstram a existência do direito constitucional de casais homoafetivos terem acesso ao casamento civil.
Portanto, considerando que o direito ao casamento civil por casais homoafetivos é uma decorrência da aplicação direta dos princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da liberdade real, e dos arts. 2º e 5º, par. Único, da Lei Maria da Penha, tem-se que é obrigação dos Cartórios de Registro Civil permitirem a casais homoafetivos consagrarem suas uniões pelo casamento civil, em especial quando já tenham uma união estável reconhecida, tanto pelo fato de a Constituição determinar a obrigatoriedade da permissão da conversão da união estável em casamento civil (argumento formal), quanto pelo fato de o casamento civil visar regulamentar a família conjugal, existente tanto na união homoafetiva quanto na união heteroafetiva preencham os requisitos da união estável (união pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, o que se dá quando haja comunhão plena de vida e interesses, pautada na lealdade, fidelidade e mútua assistência).
Notas de Rodapé
[1] Mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino/Bauru (2010); Especialista em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/PUC-SP (2008); Bacharel em Direito pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie (2005); Advogado – OAB/SP n.º 242.668; Autor do Livro “Manual da Homoafetividade. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos”.
[2] Como reconhecido pelo STF na ADPF n.º 132 e na ADIN n.º 4277, em decisão de efeito vinculante, publicada ao final do julgamento – tanto que os Ministros deliberaram e decidiram que os casos que chegarem às Turmas poderão ser decididos monocraticamente, com base no quanto decidido no citado julgamento.
[3] Tratando de tema análogo, sobre as tentativas de impor à união homoafetiva modelos apartados do casamento civil, como as leis de parcerias domésticas registradas ou de uniões civis, afirma Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros que “Como se pôde observar no debate sobre a rotulação inferiorizante promovida pelas PDR [Parcerias Domésticas Registradas] e pelo modelo britânico de união civil, não há, nesses institutos, a ampliação da identidade constitucional rumo à inclusão da homossexualidade (ou da identidade homossexual), na medida em que se verifica a criação de uma cidadania e segunda classe, menos igual que a igualdade dos outros. Há apenas a promoção da tolerância e a tolerância não reconhece outras identidades” [obs: o respeito, ao contrário, reconhece as outras identidades como merecedoras de igual proteção]. (MEDEIROS, Jorge Luiz Ribeiro de, A Constitucionalidade do Casamento Homossexual, 1ª Edição, São Paulo: Editora LTr, 2008, p. 91). Sobre o reconhecimento da união estável homoafetiva, afirma que “A superação do gueto obrigacional e o tratamento de entidade familiar propiciado pela ideia de homoafetividade, que possui como fundamentos princípios constitucionais de igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana, se concretizam também na equiparação presente nos acórdãos que reconhecem a aplicabilidade da regulamentação de união estável às relações entre pessoas do mesmo sexo” (Ibidem, p. 109), sendo que adiante critica o entendimento que não estende o mesmo raciocínio analógico para reconhecer a possibilidade de casamento civil a casais homoafetivos ao afirmar que “Todavia, toda proteção principiológica à diferença e à diversidade que permite que o afeto seja reconhecido até o limite da interpretação análoga das regulamentações relativas à união estável, parece não se aplicar à questão do casamento, sem que haja, contudo, uma fundamentação adequada para isso. O afeto homossexual passa a ser relevante para o direito, mas com limites que não são impostos ao afeto heterossexual” (Ibidem, p. 118), posição contraditória esta amplamente criticada pelo autor em sua obra, que destaca a ausência de fundamentação lógico-racional para tal postura, donde reconhece que o direito de casais homoafetivos ao casamento civil já existe por força da aplicação direta dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da liberdade (Ibidem, p. 143), como se demonstra em transcrições constantes das notas n.º 15, 18 e 20 deste parecer.
[4] Esta parece ser a posição de Ingo Wolfgang Sarlet quando afirma que: “Assim, considerando que também o princípio isonômico (no sentido de tratar os desiguais de forma desigual) é, por sua vez, corolário direto da dignidade, forçoso admitir – pena de restarem sem solução boa parte dos casos concretos – que a própria dignidade individual acaba, ao menos de acordo com o que admite parte da doutrina constitucional contemporânea, por admitir certa relativização, desde que justificada pela necessidade de proteção da dignidade de terceiros, especialmente quando se trata de resguardar a dignidade de todos os integrantes de uma determinada comunidade” (SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2002, pp. 133-4 – grifo nosso).
[5] Deixa-se de enfrentar, aqui, a discussão sobre se a EC n.º 66/2010 extinguiu ou não o regime jurídico da separação judicial do Brasil, o que é irrelevante ao argumento desenvolvido no presente parecer.
[6] Como se sabe, a discriminação juridicamente válida existe apenas quando leis diferenciadoras abranjam pessoas indeterminadas e indetermináveis no momento da eleição do critério desigualador, que a desigualação seja uma decorrência lógico-racional do critério diferenciador erigido e que dita discriminação, por mais lógico-racional que seja, seja decorrente dos valores constitucionalmente consagrados. Nesse sentido, a clássica lição de Celso Antonio Bandeira de Mello em MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 3ª Edição, 11ª Tiragem, São Paulo: Malheiros Editores, 2003. Ademais, sabe-se igualmente que há um ônus argumentativo para aquele que pretende o tratamento diferenciado, cabendo a tal pessoa comprovar a pertinência lógico-racional do tratamento diferenciado e sua coerência com os valores constitucionalmente consagrados. Nesse sentido: ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva, 5a Edição Alemã, 1a Edição Brasileira, São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 407-409; RIOS, Roger Raupp. O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual: a Homossexualidade no Direito brasileiro e Norte-Americano, Porto Alegre: Editora Revista dos Tribunais, 2002, pp. 53-54, que bem sintetiza a lição de Alexy na obra citada com a seguinte lição: “Somente diante de uma razão suficiente para a justificação do tratamento desigual, portanto, é que não haverá violação do princípio da igualdade. Ora, a suficiência ou não da motivação da diferenciação é exatamente um problema de valoração. Neste quadro, ante a inexistência de uma razão suficiente, a máxima da igualdade ordena um tratamento igual; para tanto expressar, Alexy assim formula, de modo mais preciso, a máxima de igualdade: ‘Se não há nenhuma razão suficiente para a permissão de um tratamento desigual, então está ordenado um tratamento igual’. Inexiste razão suficiente sempre que não for alcançada fundamentação racional para a instituição da diferenciação; este dever de fundamentação impõe uma carga de argumentação para que se justifiquem tratamentos desiguais. […]” (grifos nossos)
[7] Como se sabe, o casamento civil garante mais direitos que a união estável, v.g., no âmbito sucessório, além de o casamento civil trazer maior segurança aos cônjuges do que a união estável aos companheiros, visto que a certidão de casamento apresenta presunção absoluta do estado de casados independentemente de quaisquer outras provas, o que inexiste no caso da união estável
[8] Ou seja, se a interpretação jurídica aponta para uma solução e a vontade majoritária para outra, há de prevalecer a interpretação jurídica, sob pena de afronta ao princípio do Estado de Direito, o que significa ser irrelevante a inexistência de consenso popular sobre a conclusão da decisão judicial. Esta deve se pautar exclusivamente na interpretação dos enunciados normativos constantes do ordenamento jurídico (às normas a eles explícitas ou implícitas) e em nada mais. Aliás, essa é a lógica do princípio da separação dos poderes, que desde Montesquieu se pauta na lógica dos freios e contrapesos, no sentido de que um Poder deve controlar eficazmente o outro; cumprindo lembrar que o próprio Montesquieu já falava que “Para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder” (MONTESQUIEU. O Espírito das Leis, Tradução de Edson Bini, 1a Edição, São Paulo: Editora Edipro, 2004, p. 189). “E mesmo Montesquieu não entendia esta separação como um fim em si mesma, mas como algo útil à sua concepção de separar para limitar” (PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Mandado de Injunção, 1a Edição, São Paulo: Editora Atlas, 1999, p. 107). Nesse sentido, o Judiciário controla o Legislativo por ser ele quem dá a palavra final sobre a interpretação dos enunciados normativos vigentes no país; por sua vez, o Legislativo controla o Judiciário mediante a alteração dos enunciados normativos quando a interpretação do Judiciário não lhe agrade – e, se o dispositivo constitucional for uma cláusula pétrea, a maioria pode perfeitamente convocar uma nova Constituinte para que a nova Constituição seja elaborada da forma que melhor lhe convenha, assumindo os riscos inerentes à elaboração de uma nova Constituição, como a ausência de limites para alterações (risco este que não resta afastado, mas agravado, com a admissão da alteração das próprias cláusulas pétreas pela inaceitável tese da dupla reforma, que acaba por permitir o mesmo risco de ausência de limites para alterações ao propugnar pela possibilidade de se alterar o artigo que estabelece as cláusulas pétreas para, posteriormente, alterá-las, o que claramente afronta a ratio constitucional de eternidade das cláusulas pétreas, pois a imutabilidade do dispositivo que enuncia o caráter pétreo de outras cláusulas constitucionais é uma norma claramente implícita ao mesmo, pela obviedade segundo a qual, do contrário, de imutáveis as cláusulas pétreas nada terão. É uma questão de pura lógica). Essa é a lógica do princípio da separação dos poderes, que é relevante para este caso justamente para demonstrar que a vontade majoritária deve ser irrelevante à interpretação jurídica, pois a vontade majoritária encontra-se representada pelo Legislativo, que pode controlar a interpretação atribuída aos enunciados normativos pelo Judiciário pela forma supra exposta, razão pela qual afigura-se absolutamente descabido afirmar que as decisões judiciais deveriam ser precedidas de consenso popular.
[9] O elemento formador da família contemporânea é o amor familiar, a saber, o amor que vise a uma comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura (amor romântico-familiar, no caso da família conjugal), conforme defendo em VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 1ª Edição, São Paulo: Editora Método, 2008, pp. 196-211 (“2.4.1. O Amor Familiar como o Elemento formador da Família Contemporânea”). Sobre o tema, vide a excelente lição de RIOS, Roger Raupp. A Homossexualidade no Direito, Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2001, pp. 103-105, que explica a superação da opressora família hierárquico-patriarcal [na qual o homem mandava despoticamente na sociedade conjugal heteroafetiva], sua evolução para a família fusional [que se forma e se mantém apenas se houver afeto romântico na relação conjugal] e a chegada da família pós-moderna, do século XXI, na qual as relações se pautam muito mais na solidariedade e no afeto do que na mera função procriativa da família [família eudemonista, a que se forma e se mantém unicamente se isto trouxer felicidade aos seus membros]. Evidentemente, Maria Berenice Dias merece especial menção, que consagrou a concepção de família afetiva no Direito Brasileiro mediante a cunhagem do termo homoafetividade para destacar o status jurídico-familiar da união homoafetiva em sua obra atualmente nominada DIAS, Maria Berenice. União Homoafetiva. O Preconceito & a Justiça, 4ª Edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
[10] Quanto à definição da interpretação extensiva e sua diferença da analogia, cite-se a saudosa lição de Miguel Reale: “[…] o pressuposto do processo analógico é a existência reconhecida de uma lacuna na lei [ao passo que] Na interpretação extensiva, ao contrário, parte-se da admissão de que a norma existe, sendo suscetível de ser aplicada ao caso, desde que estendido o seu entendimento além do que usualmente se faz. É a razão pela qual se diz que entre uma e outra há um grau a mais na amplitude do processo integrativo”. (REALE, Miguel, Lições Preliminares de Direito, 27ª Edição, 4ª tiragem, São Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 298 – grifos nossos). Considera-se aqui que união homoafetiva e união heteroafetiva são idênticas, por serem ambas famílias conjugais por pautadas pelo amor familiar; mas, caso se considere que haveria alguma “diferença” entre ambas, então cabível analogia por serem idênticas no essencial, justamente por serem ambas famílias conjugais por pautadas pelo amor familiar.
[11] Como demonstrado, o princípio do Estado de Direito significa que vivemos sob a égide de um governo de leis e não de Homens, donde a vontade majoritária não deve ter nenhuma influência na interpretação jurídica. Se a evolução da racionalidade humana enseja uma drástica mutação normativa (mudança na interpretação do mesmo enunciado normativo, amplamente reconhecido na teoria constitucionalista pela aceitação uníssona do fenômeno da mutação constitucional), isso não significa que a maioria da sociedade tenha que isto aceitar. Quando a doutrina estadunidense mudou seu pensamento segregacionista do separados mas iguais (que permitia a segregação de negros em relação a brancos) para admitir a completa igualmente entre negros e brancos e mesmo para permitir ações afirmativas (como quotas sociais) em favor de negros a partir de uma nova interpretação do mesmíssimo dispositivo constitucional (o enunciado normativo da isonomia estadunidense não se alterou; mudou apenas a valoração da situação fática pelos julgadores quando confrontada com a igualdade do Direito Estadunidense), isso não se deu com a aceitação da maioria da sociedade – que ainda possuía uma enormidade de pessoas que ainda achavam correto discriminar negros por sua mera cor de pele. Isso mostra que a interpretação jurídica, mesmo quanto a mutações normativas (sem alteração de texto), independe da concordância da maioria da população. Ademais, o Judiciário possui plena legitimidade democrática, consubstanciada na aplicação dos enunciados normativos aprovados pela maioria. É a legitimidade tecnocrática do Judiciário, que tem legitimidade democrática oriunda do fato de pautar suas decisões nos enunciados normativos aprovados pelo povo, por intermédio de seus representantes eleitos pelo voto direto – veja-se definição da legitimidade tecnocrática do Judiciário em TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional, 1ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 507, segundo a qual “O caráter técnico, ao proporcionar uma neutralidade axiológica, garante que o órgão possa fazer atuar o Direito positivado”. Cabe aqui apontar que a neutralidade judicial não supõe que o juiz não tenha ideologias próprias, mas apenas que, entre a sua ideologia e a ideologia positivada no ordenamento jurídico, ele deva dar prevalência a esta.
[12] Nesse sentido, vide a lição de José Afonso da Silva, para quem “democracia é o regime de garantia geral para a realização dos direitos fundamentais do homem” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 25a Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2005, p. 132). Essa concepção decorre da correta noção segundo a qual o Estado Democrático visa a realizar o princípio democrático como garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa humana (Ibidem, p. 117) – ou seja, a democracia existe para garantir a prevalência dos direitos fundamentais, donde ainda que a maioria queira desrespeitar os direitos fundamentais de quem quer que seja, a vontade majoritária será inválida por inconstitucional, encontrando-se a maioria condicionada pelos termos da Constituição, o que só pode ser superado por uma nova Assembléia Nacional Constituinte. Afinal, como bem diz André Ramos Tavares: “A democracia só será plena quando estiver presente (não como suficiente) o modelo majoritário e, além dele, estiverem assegurados os direitos e liberdades fundamentais, o princípio da subordinação de todos à lei (governo de leis e não de homens), e desde que existam mecanismos que assegurem que a maioria não sufocará os correlatos direitos da minoria, alcançados após uma longa evolução história de conquistas. ‘Ora, o princípio da que o Direito é o que a maioria disser que é Direito não cumpre integralmente o princípio democrático, tal como é atualmente compreendido. Daí se saca a legitimidade do Tribunal Constitucional [e, portanto, do Judiciário em geral], amoldado a essa nova perspectiva democrática, sem a qual o Direito se afastaria da igualdade, da liberdade, da justiça e do conceito de dignidade da pessoa humana, que justificam a sua própria existência (Tavares, 1998: 84)” (Ibidem, p. 509). Para finalizar o tema da democracia, cabe aqui o espirituoso (e preciso/perfeito) exemplo auto-explicativo de Luís Roberto Barroso[12], que justifica o acerto de todo o exposto sobre o conteúdo jurídico do princípio democrático: “A Constituição de um Estado democrático deve desempenhar dois grandes papéis. Um deles é o de estabelecer as regras do jogo democrático, assegurando a participação política ampla e o governo da maioria. Mas a democracia não se resume ao princípio majoritário. Se houver oito católicos e dois muçulmanos em uma sala, não poderá o primeiro grupo deliberar jogar o segundo pela janela, pelo simples fato de estar em maior número. Aí está o segundo grande papel de uma Constituição: proteger valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade circunstancial de quem tem mais votos” (BARROSO, Luís Roberto. O Judiciário entrou na política, in Migalhas de Peso. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=19490. Acesso em 19.04.2009).
[13] Segundo Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros, “A repersonalização do Direito de Família objetiva superar a leitura essencialmente patrimonialista das relações familiares, com vistas a possibilitar a abertura para a pluralidade de formas conjugais e familiares existentes e o papel que exercitam na intimidade de cada sujeito, possuindo como base jurídica a consolidação de princípios constitucionais. Verifica-se, assim, uma concepção eudemonista de família, na qual ‘não é mais o indivíduo que existe para a família e para o casamento, mas sim a família e o casamento é que existem para o seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua aspiração à felicidade’ [Luiz Edson Fachin]” (MEDEIROS, Op. Cit., p. 26 – grifos nossos) Anote-se que a palavra eudemonista provém de palavra de raiz grega, que significa felicidade – por isso a família eudemonista é a família que se forma e se mantém apenas se ela trouxer felicidade aos seus membros
[14] Sobre o tema, é relevante trazer aqui as colocações de Daniel Sarmento ao término de sua análise do tema do casamento civil e da união estável entre pessoas do mesmo sexo à luz do princípio da igualdade: “Enfim se a nota essencial das entidades familiares no novo paradigma introduzido pela Constituição de 88 é a valorização do afeto, não há razão alguma para exclusão das parcerias homossexuais, que podem caracterizar-se pela mesma comunhão e profundidade de sentimentos presente no casamento ou na união estável entre pessoas de sexos opostos, não existindo, portanto, qualquer justificativa legítima para a discriminação praticada contra os homossexuais”, tendo em vista que “numa Constituição que se pauta pela busca da igualdade com respeito à diversidade, seria um absoluto contra-senso advogar, com base na própria Lei Maior, o engessamento de um conceito tradicional de casamento, forjado ao longo de séculos de opressão e exclusão e encharcado de preconceitos e de homofobia” (SARMENTO, Daniel. Casamento e União Estável entre Pessoas do Mesmo Sexo. Perspectivas Constitucionais. In: Igualdade, Diferença e Direitos Humanos, 1ª Edição, 2ª Tiragem, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, pp. 643 e 656).
[15] Não é nada menos o que expõe GONÇALVES, Carlos Roberto. DIREITO CIVIL BRASILEIRO: Direito de Família, 4a Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 125, ao afirmar que “A teoria foi concebida no século XIX por Zachariae Von Lingenthal, em comentários ao Código de Napoleão escritos em 1808 na Alemanha, e mais tarde desenvolvida por Saleilles em estudo realizado em 1911”, teoria esta criada “para contornar, em matéria de casamento, o princípio de que não há nulidade sem texto (pás de nullité sans texte), pois as hipóteses de identidade de sexo, falta de consentimento e ausência de celebração não costumam constar dos diplomas legais” (sem grifos no original). No mesmo sentido: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. NEGÓCIO JURÍDICO: Existência, Validade e Eficácia, 4a Edição, 5a Tiragem, São Paulo: Editora Saraiva, 2007, pp. 157-158, que, após relatar um julgado (RT 239/251) que defendeu a inexistência do casamento pela recusa da mulher em consumar o ato mediante a relação sexual (sob o fundamento de que o débito conjugal seria ato material necessário à perfeição do casamento, que visaria, segundo o julgado, a regularização da convivência carnal) para, ao final, declará-lo nulo (em clara confusão de conceitos), afirmou que “a declaração de nulidade vem após a afirmação de que o casamento era inexistente. Essa imprecisão técnica, porém, explica-se no caso, porque eis aí um caso de nulidade não prevista, a repetir as hipóteses que deram origem à teoria da inexistência” (sem grifo no original). Na mesma linha, DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família, 22a Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 52, para quem “A teoria do casamento inexistente formou-se em torno do Código de Napoleão, através dos comentários feitos pelo alemão Zachariae em 1808, traduzidos, em 1839, por Aubry e Rau, tomando corpo na obra de Saleilles. Convém lembrar, como o fizeram Planiol e Ripert, que o conceito de casamento inexistente apareceu na França, em razão do princípio de que não pode haver nulidade de casamento sem expressa disposição legal, rejeitando assim as nulidades virtuais em matéria matrimonial, considerando-se apenas as nulidades textuais. Com isso a nulidade do ato só pode ser pronunciada sobre um texto normativo. Essa doutrina aponta três requisitos essenciais ao casamento, cuja inobservância faz com que careça de valor jurídico, reputando-se inexistente: diversidade de sexos, celebração e consentimento”. (grifo nosso)
[16] Também criticando a aplicação da teoria da inexistência para obstar o acesso de casais homoafetivos ao casamento civil, é pertinente a lição de Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros no sentido de que “Observa-se um dogmatismo tautológico, no qual a suposta impossibilidade sustentada pela doutrina se baseia no próprio fato de a doutrina entender que é impossível o casamento homossexual”, afirmando que “chama a atenção a manutenção de um discurso circular acerca da vedação ao casamento homossexual, um discurso que afirma ser impossível sua aceitação pela literatura jurídica e pela jurisprudência pelo simples fato de essas mesmas fontes do direito assim o entenderem. Não há uma tematização nem um aprofundamento nos fundamentos que se situam por detrás desse entendimento; esses fundamentos são considerados algo dado e imutável, impermeável a todo o debate sobre a importância dos princípios constitucionais”, anotando o autor que “Ao longo dessa travessia [em prol do direito de casais homoafetivos terem acesso ao casamento civil], em todas as etapas, esteve presente um dogmatismo tautológico (e seus resquícios), negando a possibilidade do casamento homossexual, possuindo como principal fundamento a argumentação circular de que tal negação se baseia no fato de que a literatura jurídica e a jurisprudência entendem por essa impossibilidade, sem, contudo, adentrar no embasamento que tais fontes do Direito utilizam para promover essa negação” (grifos nossos)
[17] Assim, não merece prosperar o argumento segundo o qual o reconhecimento do casamento civil homoafetivo traria “prejuízos ao casamento enquanto instituição”, na medida em que, como bem diz Daniel Sarmento sobre esta hipótese, “O casamento continuaria sendo concebido como uma comunhão de vida entre duas pessoas, de natureza exclusiva, decorrente de um ato solene, gerador de um plexo de direitos e deveres patrimoniais e não patrimoniais para os cônjuges. Apenas permitir-se-ia um acesso mais igualitário e democrático a esta importantíssima instituição jurídica” (SARMENTO, Op. Cit., p. 642). Acrescento que, com muito mais razão, a família não seria prejudicada pelo reconhecimento do status jurídico-familiar das uniões homoafetivas. A uma porque as uniões homoafetivas formam famílias conjugais por serem pautadas pelo mesmo amor familiar que justifica o status jurídico-familiar das uniões heteroafetivas, a saber, o amor romântico-conjugal que vise a uma comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura. A outra porque o seu não-reconhecimento pelo Direito não fará com que as famílias homoafetivas deixem de existir. Esse argumento homofóbico de “proteção” da família heteroafetiva, no limite, teria que ensejar a criminalização da homoafetividade para o intuito de “proteger” a família heteroafetiva, para que assim “não se incentivasse” a homoafetividade das pessoas. Aliás, é o que sempre alegaram os totalitários opositores do reconhecimento de direitos às uniões homoafetivas quando outros países discutiram a descriminalização da homossexualidade – debate ainda vívido na jurisprudência estadunidense, na medida em que somente no ano de 2003, no julgamento do caso Lawrence v. Texas, a Suprema Corte dos EUA declarou a inconstitucionalidade de leis que criminalizavam a chamada sodomia homossexual, superando o nefasto precedente Bowers v. Hardwick, de 1986, que referendava esta totalitária legislação criminal. Em síntese, Lawrence declarou a obviedade segundo a qual o mero moralismo majoritário não constitui um legítimo fim estatal apto a fornecer uma correlação racional entre tal legislação e a razoabilidade racional oriunda da cláusula do devido processo legal substantivo, afirmando que a mera desaprovação/condenação moral a determinada pessoa ou a determinado grupo não constitui fundamento lógico-racional a justificar uma discriminação jurídica (superando expressamente o nefasto Bowers, que admitiu o mero moralismo majoritário como “legítimo fim estatal” para tal fim). É o que já havia a Suprema Corte afirmado em Romer v. Evans, quando declarou a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional do Estado do Colorado que impedia a aprovação de qualquer lei anti-discriminatória ou lei de ação afirmativa que tivesse como critério a orientação sexual dos cidadãos (na qual se declarou pela primeira vez que o mero moralismo majoritário não é um critério válido ante a isonomia para justificar discriminações jurídicas). Vide excelente explicação destes casos em RICHARDS, David A. J. The Sodomy Cases. Bowers v. Hardwick and Lawrence v. Texas, 1ª Edição, Kansas: University Press of Kansas, 2009. A íntegra das decisões pode ser encontrada em CHOPPER, Jesse H. et al. CONSTITUTIONAL LAW. Cases-Comments-Questions, 10ª Edição, St. Paul: West Publishing Co., 2009, e em KOMMERS, Donald P. FINN, John E. JACOBSON, Gary J. AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW. Essays, Cases and Comparative Notes. Liberty, Community, Vol. 2, 3ª Edição, Lanham –Boulder –New York –Toronto – Plymouth/UK: Rowman & Littlefield Publishers/Inc, 2009.
Como se vê, pretender proteger a família heteroafetiva mediante a discriminação (criminal e/ou civil-familiar) implica em uma visão totalitária de mundo absolutamente incompatível com o pluralismo social constitucionalmente consagrado em qualquer Estado Democráticoe Social de Direito (ao menos que se julgue como tal), por referendar uma arbitrária visão de mundo que não respeita as diferenças para, com base em uma ideologista tipicamente racista, menosprezar um grupo humano (pessoas homoafetivas) ante uma presunção de superioridade do outro grupo (pessoas heteroafetivas) – lembrando-se que Guilherme de Souza Nucci, com base na decisão do STF no famoso caso Ellwanger (HC n.º 82.424/RS), afirma que “Racismo: é o pensamento voltado à existência de divisão dentre seres humanos, constituindo alguns seres superiores, por qualquer pretensa virtude ou qualidade, aleatoriamente eleita, a outros, cultivando-se um objetivo segregacionista, apartando-se a sociedade em camadas e estratos, merecedores de vivência distinta” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª Edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 300-306). O absurdo deste totalitarismo e sua incompatibilidade com o pluralismo social e com qualquer noção de Direito Penal como condizente apenas com a proteção de bens jurídico-constitucionais relevantes não deveria precisar ser destacado, ante o pluralismo social demandar por igual respeito e consideração por todos os grupos humanos que não gerem prejuízos a terceiros em suas relações intersubjetivas – prejuízos estes inexistentes na homoafetividade das minorias sexuais. Mas, diante de tais litígios nos EUA, considerei pertinente trazer tais colocações.
[18] É esta também a opinião de Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros (MEDEIROS, Op. Cit., pp. 23, 114 e 140), cuja pertinente lição anota que “O direito ao casamento homossexual já se encontra garantido no ordenamento jurídico com base nos princípios elencados (igualdade, liberdade, dignidade e abertura para entidades familiares para além daquelas expressamente previstas no texto constitucional), e o entendimento que procura negar sua possibilidade acaba por gerar um cotidiano de desrespeito e negativa de reconhecimento por meio da manutenção desprovida de juridicidade da exigência de diversidade de sexos para celebração do casamento. Não existe hoje fundamento jurídico algum apto a conferir normatividade a um entendimento excludente da possibilidade de celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que há é a repetição anacrônica de um entendimento preconceituoso e incoerente com o atual estágio em que se encontra a tradição jurídica. Reconhecer a possibilidade do casamento homossexual se demonstra como consequência da garantia da igualdade como forma de proteção da diferença e da diversidade, permitindo, por conseguinte, o exercício de um desenvolvimento livre de vida, inclusive quanto à possibilidade de escolha da forma de proteção jurídica às diversas formas de relacionamento existentes. […] O que deve ser, todavia, afirmado e reiterado, é que tal direito já encontra previsão no nosso ordenamento […]” (MEDEIROS, Op. Cit., p. 143).
No mesmo sentido, leciona Maria Berenice Dias, inclusive com base na citada lição de Jorge Medeiros, quando afirma que “A doutrina clássica, que exige para o casamento o requisito da diversidade de sexos, não mais se sustenta frente à repersonalização do direito das famílias, que busca assegurar o direito à felicidade calcado nos princípios constitucionais. Segundo Jorge Luiz Medeiros, é preciso garantir o exercício da autonomia privada (garantia dos direitos individuais) e da autonomia pública (respeito como sujeitos iguais na atuação pública, sem redução de status jurídico de nenhuma espécie por conta de suas diferenças); de liberdade (na escolha da forma de proteção jurídica ao seu afeto) e igualdade (acesso às mesmas proteções que um casal homossexual dispõe), exercitando o constitucional princípio da dignidade da pessoa humana. A discussão sobre a igualdade, liberdade e dignidade que perpassa o tema não se restringe ao tratamento igualitário no atinente às consequências jurídicas do casamento, mas à própria concretização do direito de se casar. […]” (DIAS, Op. Cit., p. 159)
[19] Esta é a hierarquia axiológica descrita por Luís Roberto Barroso, para quem “Tudo o que se viu até aqui em nome da unidade constitucional reforça o papel dos princípios constitucionais como condicionantes da interpretação das normas da Lei Maior. São eles que conferem unidade e coerência ao sistema e é a eles que se recorre na solução das tensões normativas. A grande premissa sobre a qual se alicerça o raciocínio desenvolvido é a de que inexiste hierarquia normativa entre as normas constitucionais, sem qualquer distinção entre normas materiais ou formais ou entre normas-princípio e normas-regra. Isso porque, em direito, hierarquia traduz a ideia de que uma norma colhe o seu fundamento de validade em outra, que lhe é superior. Não é isso que se passa entre normas promulgadas originariamente com a Constituição. Não obstante isso, é inegável o destaque de algumas normas, quer por expressa eleição do constituinte, quer pela lógica do sistema. No direito constitucional positivo brasileiro, foram expressamente prestigiadas as normas que cuidam das matérias integrantes do núcleo imodificável da Constituição, que reúne as chamadas cláusulas pétreas. Consoante o elenco do §4o do art. 60, não podem ser afetadas por emendas que tendam a abolir os valores que abrigam as normas que cuidam: a) da forma federativa do Estado; b) do voto direto, secreto, universal e periódico; c) da separação dos Poderes; d) dos direitos e garantias individuais. Todos os itens acima, não é difícil constatar, estão ligados a algum dos princípios fundamentais do ordenamento, a saber: o princípio federativo, o princípio democrático e o princípio republicano (periodicidade de voto). Aliás, ao menos idealmente, a Democracia, a República e a Federação constituem, de longa data, o trinômio essencial do Estado brasileiro. É natural que esses princípios fundamentais, notadamente os que foram objeto de distinção especial no §4o do art. 60, sejam os grandes vetores interpretativos do Texto Constitucional. Em seguida, vêm os princípios gerais e setoriais. Porque assim é, deve-se reconhecer a existência, no Texto Constitucional, de uma hierarquia axiológica, resultado da ordenação dos valores constitucionais, a ser utilizadas sempre que se constatarem tensões que envolvam duas regras entre si, uma regra e um princípio ou dois princípios” (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 6a Edição, 3a tiragem, São Paulo: Editora Saraiva, 2006, pp. 202-203 – grifos nossos).
[20] Discriminação decorrente dos direitos negados pela negativa do casamento civil, que inclusive garante mais direitos que a união estável – v.g., no âmbito do Direito Sucessório, pois o quinhão do cônjuge é superior ao quinhão do companheiro; bem como pela maior segurança/praticidade que a certidão de casamento civil confere ao casal, por trazer presunção absoluta de que o casal forma uma família conjugal.
[21] Afinal, como bem afirma Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros, “quando se nega a possibilidade de acesso de casais de pessoas do mesmo sexo ao casamento, está a se retornar a uma hierarquização das atividades familiares, de forma excludente e sem fundamento no Direito. Ora, se a partir de princípios se reconhece o direito de homossexuais terem acesso a formas de proteção de sua afetividade, desde que essa forma não seja o casamento, como vem sendo consolidado na jurisprudência, está a se dizer implicitamente que esse instituto se encontra em um patamar distinto, fechado à pluralidade, à diferença e às transformações sociais, diferentemente das outras entidades familiares reconhecidas. Um entendimento dessa espécie é inconstitucional e, portanto, antijurídico. Viola também a integridade do direito, na medida em que retorna a entendimentos pretéritos (o entendimento do casamento inexistente) para fundamentar situações jurídicas presentes, sem considerar o panorama atual, que prevê que essa liberdade, igualdade e dignidade, constitucionalmente protegidas, não se restringem ao acesso a direitos decorrentes da união, mas também à própria possibilidade de livre e igualmente ter acesso aos diferentes institutos jurídicos que podem regulamentar essa união afetiva” (MEDEIROS, Op. Cit., p. 142).
[22] Mesmo porque proibições implícitas não existem no Direito Pátrio por força do art. 5º, inc. II, da CF/88, que exige enunciado normativo expresso para que se possa falar em proibição em nosso sistema jurídico.
[23] Nesse sentido, a lição de Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros, para quem “Afirmar, hoje, que a celebração do casamento homossexual [não] produziria efeito algum para o mundo do Direito, não possui fundamento jurídico. O ordenamento não define o casamento como celebrável unicamente entre homem e mulher, e qualquer interpretação carregada de preconceitos de novíssima (novíssima?) geração que se procure entender nesse sentido, encontra óbice na proteção que os princípios constitucionais conferem à diferença. Em sentido semelhante, qualquer disposição procedimental para a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo, é manifestamente inconstitucional e não deve, portanto, ser aplicada” (Ibidem, p. 144)
[24] Desenvolvo o tema com profundidade em VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 1ª Edição, São Paulo: Editora Método, 2008, pp. 257-271, no qual destaco que o fato de o art. 1514 do CC/02 usar a expressão “o homem e a mulher” significa mera regulamentação do fato heteroafetivo para fins de casamento civil sem, contudo, proibir o fato homoafetivo, o que configura lacuna normativa passível de colmatação por interpretação extensiva ou analogia, tendo em vista que a interpretação teleológica de dito dispositivo legal explicitar que ele visa reconhecer a família conjugal, que é formada pelo amor familiar (amor romântico que vise a uma comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura), donde, considerando que a união homoafetiva forma uma família conjugal por ser pautada pelo mesmo amor familiar que inspira a regulamentação do casamento civil pelo Direito das Famílias, tem-se por obrigatória a aplicação de interpretação extensiva ou analogia para se reconhecer a possibilidade jurídica do acesso de casais homoafetivos ao casamento civil. No mesmo sentido, honrando-me com paráfrase de trecho de meu Manual da Homoafetividade, leciona Maria Berenice Dias: “Diz a lei (CC, art. 1.514): ‘O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer seu vínculo conjugal, e o juiz os declara casados’. Grande parte da doutrina invoca esse dispositivo para afirmar que a diversidade sexual é condição de existência do casamento, e que pessoas do mesmo sexo somente poderiam contrair matrimônio se a lei fosse expressa nesse sentido. Tal interpretação é desprovida de fundamento normativo que a justifique, na medida em que o CC não define – e nem tenta – o que é família ou mesmo o que é casamento. Entre os impedimentos matrimoniais não está prevista a identidade do sexo dos nubentes. Limita-se a lei a estabelecer requisitos para a sua celebração , elenca os direitos e os deveres dos cônjuges e disciplina os regimes de bens. A expressão ‘o homem e a mulher’ não é capaz de impedir o casamento homoafetivo. Significa tão-somente a regulamentação do fato heteroafetivo, sem proibir o fato homoafetivo, por interpretação extensiva ou analogia [nota ao nosso VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti, Manual da Homoafetividade…, p. 258]” (Ibidem, pp. 159-160). No mesmo sentido, também me honrando com a citação de minha obra, é valiosa a lição de Marianna Chaves, que, analisando o art. 1.514 do CC/02, afirma que “No caso dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, a legislação limitou-se a regulamentar um fato (casamento heterossexual), deixando outro sem regulação específica, tampouco sem vedação (casamento homossexual). Entende-se, portanto, que a tal ‘proibição implícita’ inexiste, se tratando tão-somente de uma lacuna na lei, devendo-se aplicar o art. 4º da LICC***. Assim, a doutrina favorável ao reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil, termina por oferecer duas saídas: aplicação extensiva do art. 1.514 do CC brasileiro, ou, no caso de entendimento de que não existem duas situações idênticas (um par com dualidade de sexos e outro par com identidade de sexos), deverá ser aplicado analogicamente o dispositivo supracitado, uma vez que, as situações são idênticas ao menos na essência, uma vez que o elemento formador de ambas as uniões é um só, o amor [aqui há nota a meu Manual da Homoafetividade, p. 268]” (CHAVES, Marianna. Homoafetividade e Direito. Proteção Constitucional, Uniões, Casamento e Parentalidade. Um Panorama Luso-Brasileiro, 1ª Edição, Curitiba: Juruá Editora, 2011, pp. 218-219).
*** [aqui há nota citando meu Manual da Homoafetividade, pp. 261-264, na qual, com base na teoria tridimensional do Direito, segundo a qual a norma decorre da valoração de um fato (norma = fato + valor) afirmo que ‘por mais que a lei traga a expressão ‘o homem e a mulher’ (ou seja, o ‘fato’ heteroafetivo), o valor por ela protegido não é a heterossexualidade, mas o amor de duas pessoas que gera uma entidade familiar, por meio de uma comunhão plena de vida e interesses, contínua, duradoura e com intuito de constituir família)
Continua a autora com uma excelente síntese da ação civil pública n.º 2005.61.18.000028-6, proposta pelo Procurador da República, Dr. João Gilberto Gonçalves Filho, que requer o reconhecimento a todo o país da possibilidade jurídica do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que também cito em meu livro, nos seguintes termos: “Seguindo essa ideia da possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, no ano de 2005 foi intentada Ação Civil Pública pelo MP Federal, com o intuito do reconhecimento do casamento civil homossexual. Na exordial, o Procurador da República, Dr. João Gilberto Gonçalves Filho, trouxe a baila alguns argumentos já referidos no presente estudo, tais como: a proibição da discriminação por orientação sexual. Além do respeito à dignidade da pessoa humana. O douto Procurador assevera que a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo nada mais é do que um dogma absolutamente enraizado na tradição cultural brasileira, qual seja, o de que o homem só pode casar-se com a mulher e vice-versa. Afirma ainda que, uma leitura isolada e equivocada dos §§3º e 5º do art. 226 da CF e dos arts. 1.565 e 1.517 do Diploma Civil poderiam levar à contestável compreensão de que o casamento só pode ser mesmo realizado entre pessoas do mesmo sexo [‘rectius’: de sexos diversos]. Acrescenta que os dispositivos supra elencados deverão ser lidos num confronto sistemático com vários outros, também da própria Constituição Federal e da legislação infraconstitucional para que da análise conjunta de todos eles possa ser extraída a norma de direito aplicável. Assevera ainda o membro do Parquet Federal que o direito a receber do Estado brasileiro o status jurídico de pessoa casada é uma materialização dos direitos da personalidade. O fato é que, na atualidade, heterossexuais podem casar entre si, fazendo jus a esse direito de cidadania, enquanto homossexuais não podem, lhes sendo esse direito negado. Deste modo, é indubitável que o critério para conceder a uns o direito ao casamento, negando-o a outros, é a orientação sexual dos indivíduos. Nesta situação reside patente afronta ao princípio da igualdade: o Estado Brasileiro trata os cidadãos de forma diversa sem que o critério de discriminação esteja sustentado numa razão lógica inexoravelmente relevante (em nota de rodapé, a autora transcreve o seguinte trecho da petição inicial ‘afinal, o bem jurídico tutelado com essa discriminação é apenas um padrão moral de conduta, alicerçado sobre a ideia preconceituosa de que o homossexualismo é pecado [rectius: a homossexualidade]. Não há problema algum que as religiões pensem isso e divulguem essa ideia a seus fiéis, já que é admitida a liberdade de crença religiosa; não há problema algum que as autoridades dos Três Poderes também pensem assim, intimamente, já que fora garantida a liberdade de pensamento; contudo, o Estado Brasileiro, como pessoa jurídica que não se confunde com suas autoridades, como instituição que deve zelar pelo igual tratamento dispensado a seus cidadãos, não pode valer-se de um código de ética moral para discriminá-los. A partir do momento em que vivemos num estado de Direito, sendo separado de qualquer religião, que preza pelas liberdades individuais, cabe-lhe abrir os braços para o diferente, com tolerância e inclusão’). Na referida ação são levantadas algumas questões importantes: que mal faz à sociedade o casamento de pessoas homossexuais? Qual o bem jurídico tutelado que faria justificar a negativa estatal ao casamento de homossexuais? Pode-se dizer que a permissão ao casamento homossexual em nada afronta a Carta Magna ou o ordenamento brasileiro. Acrescenta ainda o Procurador que ‘se é objetivo da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, as pessoas devem ter liberdade para escolher seus parceiros sexuais sem que essa escolha implique injustas restrições de tratamento por parte do aparato administrativo estatal. A solidariedade pressupõe acolher e dar apoio às escolhas individuais, abrindo oportunidade a qualquer pessoa para que possa concretizar o seu direito constitucional de ser feliz, mormente quando essas escolhas não atrapalham em nada os direitos individuais das demais ou os direitos coletivos em geral, como é o caso do casamento de homossexuais’” (CHAVES, Op. Cit., pp. 219-220).
[25] Com efeito, em tempos de neoconstitucionalismo, nos quais é pacífico na doutrina constitucionalista que as normas constitucionais se irradiam na interpretação de todos os enunciados normativos vigentes no país, sejam eles constitucionais (interpretação sistemática) e especialmente nos infraconstitucionais (interpretação conforme a Constituição), tendo em vista a postura invasiva da Constituição na regência da vida da sociedade em geral, inclusive com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, afigura-se inadequado não se reconhecer que a Administração Pública não poderia atuar mediante concretização de normas constitucionais. Para análise de preciosos artigos sobre o neoconstitucionalismo, vide QUARESMA, Regina. OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula. OLIVEIRA, Farlei Martins Riccio de. Neoconstitucionalismo, 1ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, entre os quais BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, in QUARESMA, Regina et. al. (coord.). Neoconstitucionalismo, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, pp. 51-92, que traz os marcos histórico, filosófico e teóricos do neoconstitucionalismo. Cite-se, ainda, CARBONELL, Miguel (org). Neoconstitucionalismo(s), 2ª Edição, Madrid: Editorial Trotta, 2005, que igualmente traz valiosos artigos para o estudo do tema.
[26] Segundo JUNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Administrativo, 10ª Edição, Editora JusPODIVM, 2011, p. 67, “Entende-se por juridicidade a moldura jurídica com a qual deve a Administração Pública conformar os seus atos e a sua atuação. Desse modo, o dever de juridicidade é aquele que impõe à Administração Pública somente agir nos termos da ordem jurídica, de modo a compatibilizar as suas atividades com a Constituição, as leis e as normas administrativas. Cumpre esclarecer que o dever de juridicidade é mais do que o dever de legalidade. Isto porque a Administração Pública não está vinculada e sujeita apenas à lei, mas à ordem jurídica como um todo, que contempla outros parâmetros jurídicos (dever de razoabilidade, dever de proporcionalidade, dever de impessoalidade, dever de moralidade, dever de motivação, dever de respeitar os direitos do cidadão administrado etc)” (grifos nossos). No mesmo sentido, PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo, 24ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2011, pp. 27, 29 e 31, que, ao tratar das tendências contemporâneas do Direito Administrativo, trata como realidade do Direito Administrativo Contemporâneo o “alargamento do princípio da legalidade (para abranger, não só a lei, mas também princípios e valores)”, no sentido de “O Estado Democrático de Direito pretende vincular a lei aos ideais de justiça, ou seja, submeter o Estado não apenas à lei em sentido puramente formal, mas no Direito, abrangendo todos os valores inseridos expressa ou implicitamente na Constituição. Nesse sentido, o artigo 20, §3º, da Lei Fundamental da Alemanha, de 8-5-49, estabelece que ‘o poder legislativo está vinculado à ordem constitucional; os poderes executivo e judicial obedecem à lei e ao direito’. Ideias semelhantes foram inseridas nas Constituições espanhola e portuguesa. No Brasil, embora não se repita norma com o mesmo conteúdo, não há dúvida de que se adotou igual concepção, já a partir do preâmbulo da Constituição, rico em menção a valores como segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Além disso, os artigos 1º a 4º e outros dispositivos esparsos contemplam inúmeros princípios e valores, como os da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o da erradicação da pobreza, o da economicidade, entre outros. Todos esses princípios e valores são dirigidos aos três Poderes do Estado: a lei que os contrarie será inconstitucional; a discricionariedade administrativa está limitada pelos mesmos, o que significa a ampliação do controle judicial, que deverá abranger a validade dos atos administrativos não só diante da lei, mas também perante ao Direito, no sentido assinalado. Vale dizer que, hoje, o princípio da legalidade tem uma abrangência muito maior porque exige submissão ao Direito”, donde, “Com o Estado Democrático de Direito, conforme assinalado, a legalidade passou a significar a sujeição ao Direito (lei, valores, princípios)”. No mesmo sentido, NETO, Diogo de Figueiredo Camargo. Curso de Direito Administrativo, 13ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, pp. 213-214, “A palavra legalidade é aqui tomada em seu sentido amplo, como sinônima de juridicidade, envolvendo, portanto, a legalidade estrita, a legitimidade e a licitude […] O princípio da legalidade, que já havia sido conceituado em seu aspecto objetivo como sujeição do agir à lei, se reapresenta, agora, em seu aspecto subjetivo, como garantia da supremacia do interesse juridicamente protegido”. Tamanha é a aceitação da juridicidade constitucional como parâmetro de ação da Administração Pública que o citado autor, em edição posterior de sua obra, passou deixou de chamar o seu “Capítulo X” objeto de tal transcrição de “Controle de Legalidade” para nominá-lo de “Controle de Juridicidade”, igualmente alterando o primeiro tópico de “Princípio da Legalidade” para “Princípio da Juridicidade”, afirmando que “O princípio da juridicidade, assim integrado pela legalidade, pela legitimidade e pela licitude, se dirige a atender à mais importante finalidade do Direito Administrativo, que por si só o justificaria: a proteção das liberdades e dos direitos dos administrados, seguindo-se em importância, a ordenação das atividades juridicamente relevantes da Administração” (NETO, Op. Cit., 20ª Edição, p. 247), em obra da qual extrai-se o seguinte: “O princípio da juridicidade corresponde ao que se enunciava como um ‘princípio da legalidade’, se tomado em sentido amplo, ou seja, não se restringindo à mera submissão à lei, como produto das fontes legislativas, mas de reverência a toda a ordem jurídica”
[27] Cf., v.g., NETO, Diogo de Figueiredo Camargo. Op. Cit., 13ª Edição, p. 213, para quem “A mais importante finalidade do Direito Administrativo, e que por si só o justificaria, é a proteção das liberdades e dos direitos dos administrados. Para esse efeito, a Administração, como braço executivo do Estado, tem o seu poder contido por duas técnicas juspolíticas: a limitação e o controle” (na 20ª Edição, o trecho está na p. 247, transcrito na nota anterior).
[28] Segundo Dirley da Cunha Junior, “se para o particular prevalece a liberdade/faculdade de ação, para a Administração existe um dever de ação, sempre que a ordem jurídica lhe impõe uma providência ou ela se mostre necessária em face das circunstâncias administrativas. Não pode, destarte, a Administração Pública deixar de praticar ato de sua competência, sob pena de responder por sua omissão na via administrativa ou judicial. É que, na omissão do gestor ou silêncio da Administração Pública que se abstém de seu dever jurídico de agir, pode o cidadão-administrado manejar os remédios jurídicos disponíveis para obter o ato ou a providência omitida, ou para ser indenizado do dano causado pela omissão do Estado. Nesse sentido se pacificou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal [STF, RE n.º 121.140/RJ] e do Superior Tribunal de Justiça [STJ, AgRg n.º 822.764/MG]” (JUNIOR, Op. Cit., p. 66).
[29] ARRIADA, Roberto Lorea. A influência religiosa no enfrentamento jurídico de questões ligadas à cidadania sexual: Análise de um acórdão do Tribunal de Justiça do RS, in RIOS, Roger Rauup (org.). Em defesa dos DIREITOS SEXUAIS, 1a Edição, Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2006, p. 192 (para todas as citações).
[30] Cf. notícia do site Universo Jurídico (www.uj.com.br) , notícia de 08/01/2008, nominada “Reconhecida a união estável durante 25 anos entre duas mulheres” (acesso no mesmo dia; grifo nosso).
[31] Sentença proferida no processo n.o 001.181.480-80, perante a 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Porto Alegre, in LOREA, Roberto Arriada. União estável: Sentença dá base legal para casamento entre gays. Fev. 2005, Seção Notícias. Disponível em: http://conjur.uol.com.br/textos/252505/. Acesso em 20 fev. 2005.